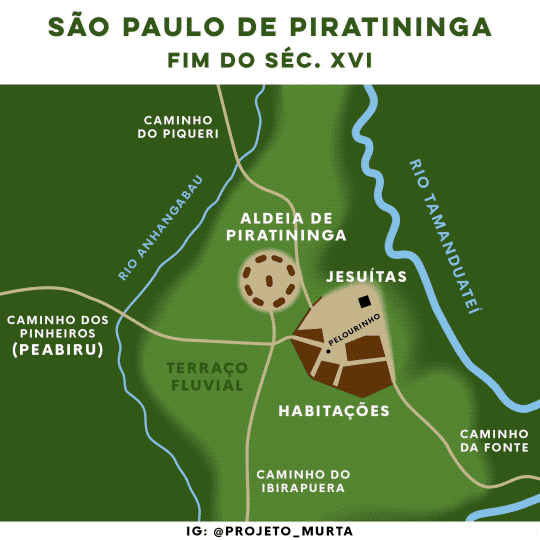DE ONDE VEM O NOME DO PROJETO?
DE ONDE VEM O NOME DO PROJETO?
”O MÁRMORE E A MURTA”
Essa frase é a metáfora central do “Sermão do Espírito Santo” do Padre Antônio Vieira onde ele expõe as ideias jesuíticas a respeito da alma do indígenas brasileiros. Em meados do século XVI, existia o problema dos “brasís” não reterem os ensinamentos da Igreja Católica. Segundo o padre, a catequese era como esculpir uma estátua. Os índios eram fáceis de convencer mas depois eram inconstantes e inconfiáveis (como a murta, um arbusto ornamental fácil de esculpir mas que logo volta a forma selvagem original), opostos a outros povos previamente conquistados pelos cristãos, mais duros, resolutos e desenvolvidos (como o mármore, duro para entalhar mas que depois retém a forma para sempre). A mesma frase também dá nome a um ensaio recente do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro que analisa o mesmo sermão pelo ponto de vista indígena.
Para Vieira, a murta era um símbolo negativo: caótico e imprevisível. Já o mármore, era sólido e apurado. Hoje em dia propomos outra leitura: A murta é viva e próspera enquanto mármore é frio e estático.

O PEABIRU (PARTE 1)
O PEABIRU (PARTE 1)
Uma trilha intercontinental conectando a América do Sul muito antes da colonização.
A criação de São Paulo está diretamente ligada ao Peabiru. A pequena população de portugueses que já habitava a região de São Vicente sabia pelos índios da existência do caminho que ia até “montanhas cobertas de gelo” dominadas por um “Rei Branco” cheio de ouro e prata (era Potosi, e o rei era Inca). Ao tomar conta disso, Martim Afonso de Sousa achou pertinente criar ali uma base para futuras explorações. Os jesuítas vieram na sequência, com planos bem diferentes para aquelas entradas. Os religiosos sonhavam em usar estas trilhas como eixo de expansão da catequese no interior da América do Sul e São Paulo era uma dessas primeiras missões. O intercâmbio ao longo do que os padres chamavam de “Caminho de São Tomé” era tão intenso que em 1553 Tomé de Sousa decidiu proibir seu percurso, sob forte protesto dos jesuítas, por medo da influência dos espanhóis que faziam avanços ao longo de sua extensão. O fechamento precoce do caminho é o maior desafio para se estabelecer sua localização, dependendo dos poucos relatos contemporâneos.
Alguns historiadores acreditam que em certos trechos a trilha chegava a ser pavimentada com pedra e documentos de época mencionam um caminho de oito palmos de largura coberto por uma certa erva rasteira mágica que resistia até o fogo e mantinha o contorno do caminho impedindo outras plantas maiores de crescer no lugar. Outros, como Sérgio Buarque de Holanda, sequer pensam que o Peabiru foi uma única via e sim um conjunto de caminhos e instruções de movimentação pelo território sul-americano. Independente de origem e aspecto, o Caminho do Peabiru partia de (ou terminava em) Cusco, passava por Potosí, Assunção do Paraguai e na região do Guayrá (interior do Paraná) se dividia em três ramais que alçavam a costa Brasileira. O primeiro chegava em Santa Catarina, próximo a Florianópolis, o do meio encontrava o mar em Cananéia e o mais ao norte descia a Serra do Mar até se deparar com o mangue costeiro da atual Cubatão.
Pouco se sabe sobre essas rotas, já que a história oficial do Brasil até hoje é muito centrada nos feitos dos colonizadores. Segundo o mito, os Bandeirantes teriam desbravado o interior no país, até então selvagem e desconectado. Mas a verdade é que, muito antes dos europeus chegarem aqui, já existia uma comunicação inter-continental entre as diversas culturas ameríndias e o principal duto dessa integração era o Peabiru. Nas últimas décadas tem havido um esforço coletivo para tentar compreender a perspectiva indígena e re-escrever a narrativa da ocupação do território americano. Nosso projeto se junta a esse coro.

O PEABIRU (PARTE 2)
O PEABIRU (PARTE 2)
A “Trilha dos Tupiniquins” o primeiro acesso do litoral ao planalto paulista.
Esse é o trajeto da nossa caminhada fotográfica. Um pouco da sua história:
Logo nos primeiros anos de colonização já havia um punhado de portugueses degredados, náufragos, ou ambos, vivendo desorganizadamente entre o litoral e os “Campos de Piratininga” acima. O mais célebre deles foi João Ramalho, de quem falaremos em breve. No entanto, um obstáculo descomunal dificultava essa movimentação: a Serra do Mar. Hoje tão perfurada por túneis e trafegada por carros a ponto de parecer um cupinzeiro, a impressionante montanha de granito foi um dia chamada pelos jesuítas de “A Muralha”, muito mais imponente que qualquer grande muro de seriado americano. Os únicos que sabiam como transpor essa barreira, claro, eram os indígenas. Os Tupiniquim, povo Tupi-Guarani que vivia nessa região muito antes da colonização, se tornaram “aliados” dos portugueses e ensinaram o caminho. Digo “aliado” entre aspas porque sabemos que a relação era bem mais complicada e violenta. A maioria dos índios Tupiniquim foi escravizada e/ou forçada a se converter. Nas verdade os Tupiniquim e os portugueses tinham um inimigo imediato em comum, os Tupinambá (ou Tamoios) vizinhos que viviam imediatamente ao norte, começando seu domínio mais ou menos onde hoje é São Sebastião.
Voltemos a João Ramalho, esse homem misterioso que chegou no Brasil por volta de 1515 e logo se aproveitou da situação para estabelecer seu domínio no território paulista. De alguma forma Ramalho conseguiu se “amigar” com Mbicy, mais conhecida hoje como Bartira, filha de um dos caciques mais poderosos da região: Tibiriçá. A aliança entre o português de passado suspeitoso e o líder Tupiniquim foi o germe da criação do que conhecemos hoje por São Paulo. A dupla controlava praticamente toda a população da região de Piratininga, entre nativos e colonos. Na ocasião da fundação de São Vicente, a primeira vila “brasileira”, em 1532 por Martim Afonso de Sousa, foram João Ramalho e Tibiriçá que receberam o fidalgo. Os líderes locais guiaram o capitão português serra acima por um caminho que ficou conhecido como “Trilha dos Tupiniquins”. Mais tarde, em 1553, a Coroa Portuguesa insatisfeita com a vulnerabilidade da colonos que viviam espalhados em sítios isolados no planalto resolveu aglutinar essa população que vivia sendo atacada por Tupinambás e Tupiniquins revoltados. João Ramalho foi mandado a fundar uma vila fortificada ao longo da “Trilha dos Tupiniquins” no ponto em que essa encontrava o planalto. A vila se chamou Santo André da Borda do Campo, durou apenas sete anos e até hoje hoje não se sabe sua localização exata. Mas essa é outra história que vou contar mais pra frente. Ao mesmo tempo que a Coroa juntava seu povo nessa nova vila, os jesuítas recém-chegados, auxiliados pelo cacique Tibiriça, agruparam vários indígenas da região em uma nova aldeia chamada de Piratininga. Essa nova aldeia ficava há algumas léguas pra frente na mesma “Trilha dos Tupiniquins”. Ao lado dessa povoação os jesuítas fundaram sua casa, onde hoje é o Patio do Colégio na Sé. Piratininga virou São Paulo e a “Trilha dos Tupiniquins” você já deve ter adivinhado o que era, né? O ramal local do Caminho do Peabiru.

O PEABIRU (PARTE 3)
O PEABIRU (PARTE 3)
Sabia que algumas das maiores ruas de São Paulo foram parte de um conjunto de caminhos indígenas que chegava até o Peru?
Como tudo que envolve o Peabiru, existem mais controvérsias do que consensos. Depois de ler vários artigos e livros conheci uma pesquisa de 1998, desenvolvida pelo arquiteto Daniel Issa da FAU-USP e orientado pelo professor Gustavo Neves da Rocha Filho: “O Peabiru: uma trilha indígena cruzando São Paulo”. Esta é a principal fonte para o mapa deste post, e claro, para nossa caminhada fotográfica.
Começando a partir da Sé, para o lado oeste existe um consenso (um dos poucos!) a respeito das ruas que foram originalmente parte do Peabiru. Estão preparados? R. José Bonifácio, cruza o Anhangabaú, R. Quirino de Andrade, Largo da Memória, R. Xavier de Toledo, Consolação, Bela Cintra, Rebouças, R. dos Pinheiros, R. Butantã e ali encontra o Rio Pinheiros na altura da ponte Eusebio Matoso. Antes da retificação esse era um ponto bem estreito do rio possível de ser atravessado. Depois do rio o caminho ainda é um pouco incerto. Alguns acreditam que seguia pela atual Rodovia Raposo Tavares, outros que subia em direção à Osasco rumo a Sorocaba.
A partir da Sé em direção leste fica a “Trilha dos Tupiniquins”. Aqui tudo é ainda MUITO controverso. Praticamente não li duas pesquisas que concordassem entre si. A própria pesquisa de 1998 está sendo revisada neste momento por Gustavo Neves da Rocha Filho. E isso, meus amigos, é a nossa história antiga sendo re-escrita em tempo real! De qualquer forma, esta é a hipótese que estamos seguindo: Desce a R. do Carmo, R. da Tabatinguera e nesse ponto antes da retificação do Tamanduateí, existia uma ponte. Dali segue a R. da Móoca e R. do Oratório. Essa última se torna Av. da Vila Ema, depois Av. do Oratório até atravessar o córrego de mesmo nome e mudar para Av. Sapopemba até a divisa com a cidade de Mauá. Depois desse ponto a pesquisa se encerra e entramos na região mais misteriosa da “Trilha dos Tupinquins”, nos arredores de onde teria sido a cidade perdida de Santo André da Borda do Campo. Só sabemos que os trilhos da CPTM devem seguir mais ou menos o seu trajeto até Paranapiacaba.

SUMÉ VS. SÃO TOMÉ
SUMÉ VS. SÃO TOMÉ
Para os Tupi-Guarani o Caminho do Peabiru teria sido criado por um entidade chamada Sumé. Os jesuítas acreditavam que na verdade ele era São Tomé:
Projetos imperiais normalmente vem acompanhados de imagens proféticas, talvez (ou exatamente) para justificar a violência imposta sobre os povos subjugados. No caso de Portugal, desde o séc. XV se desenvolveu um interesse especial ao redor de São Tomé. O apóstolo Thomás foi, supostamente, o pregador que divulgou a palavra do Senhor nas terras mais longínquas e é considerado fundador do Cristianismo na Ásia. Faz sentido então que o Império Lusitano se identificasse com sua figura e que os Jesuítas também vissem sinais de sua passagem por terras brasileiras; um feito e tanto para um peregrino solitário portando apenas sandalhas de couro.
Como não poderia deixar de ser, essa criação colonial foi mais uma apropriação do patrimônio dos locais. Logo nos primeiros contatos, os indígenas relatavam histórias de uma entidade mística civilizatória chamada Sumé (ou Pay Zumé, ou ainda Pay Tumé no Peru) que teria lhes apresentado a mandioca, ensinado a agricultura e, mais importante aos conquistadores, aberto caminhos muito longos que conectavam a costa do Brasil às terras de um tal Rei Branco (mais tarde identificada como Potosí, na atual Bolívia). Era o Caminho do Peabirú. Do encontro entre ganância e fanatismo nasceu um interesse dobrado na figura de Sumé: para os colonos ele seria a porta de entrada para as riquezas do interior. Para os Jesuítas, que logo perceberam a similaridade da pronúncia do nome da entidade Tupi-Guarani com “Tomé”, seria a prova de que o apóstolo chegou na América. Esse fato, em si, tinha a dupla função de reforçar o divino desígnio do projeto de catequese e incluir os indígenas na cosmologia cristã europeia baseada em superioridade racial. O Peabiru para os jesuítas passa a se chamar “Caminho de São Tomé”. No “Sermão do Espírito Santo” o Padre Antônio Vieira explica que São Tomé, aquele que só acredita vendo, cutucou as chagas de Cristo para se convencer da ressurreição e foi condenado por tal impropério a pregar no fim de mundo mais hostil de que se tinha conhecimento: O Brasil.
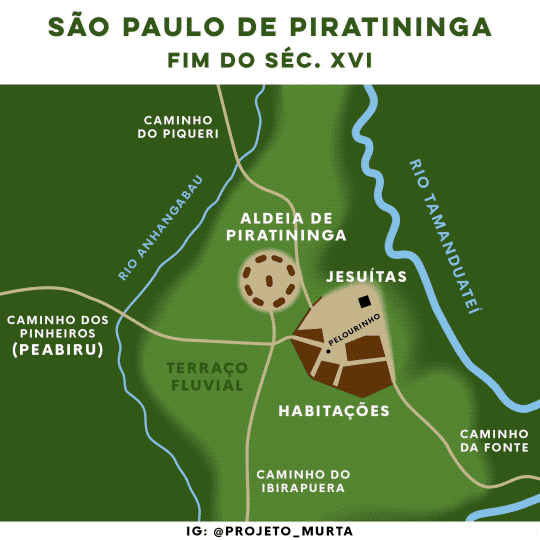
ONDE FICAVA A ALDEIA DE PIRATININGA?
ONDE FICAVA A ALDEIA DE PIRATININGA?
Onde ficava a Aldeia de Piratininga, a povoação do cacique Tibiriçá que deu origem a São Paulo?
Esta localização é muito importante para o nosso projeto porque a caminhada fotográfica parte da antiga aldeia. Durante décadas sua posição foi fruto de muita especulação. Colocaram Piratininga na confluência do Tietê com o Tamaduateí, na região da Luz e alguns outros lugares ao redor. Uma pesquisa recente do professor Gustavo Neves da Rocha Filho une documentos da época mais o entendimento do cruzamento das antigas trilhas indígenas e, mais importante, faz uma análise inédita do terreno ideal para construção das aldeias de acordo com os princípios dos próprios indígenas:
“1. chão duro, no fim de algum contraforte, no ângulo entre dois cursos de água confluentes;
2. o solo não pedregoso nem arenoso, mas formado de argila dura;
3. o lugar não demasiado distante da água;
4. nas proximidades bastante mata ciliar para as roçadas durante o espaço de uns dez anos.
O centro histórico é constituido por um espaço delimitado pelas atuais ruas Direita, São Bento e Quinze de Novembro, um terraço fluvial onde as declicidades máximas não superam os 5% e cerca de vinte metros acima das várzeas que o contornam e na confluência do ribeirão Anhagabau, hoje canalizado, e do rio Tamanduatei. O solo do terraço fluvial é constituido na superfície de argila dura, como já haviam notado os viajantes que aqui estiveram, propício para a instalação da aldeia indígena.”
Então, da próxima vez que você visitar o Centro e passar na esquina do CCBB, olhe para baixo onde o coração indígena de São Paulo ainda bate embaixo da terra.
OBS: O mapa que segue esse post é um redesenho do mapa feito pelo próprio Gustavo Neves da Rocha Filho. O professor está trabalhando nesta pesquisa que ainda não foi publicada mas é possível acompanhar o desenvolvimento no seu blog. Entre lá para saber mais sobre essa história e muitas outras!

A VERDADE SOBRE A FUNDAÇÃO DE SÃO PAULO
A VERDADE SOBRE A FUNDAÇÃO DE SÃO PAULO
A fundação de São Paulo não foi em 25 de Janeiro de 1554, a data que comemoramos oficialmente. Ou pelo menos, não foi tão simples assim. Este é o dia da primeira missa rezada por José de Anchieta na humilde construção de taipa de mão que ficava ao lado da aldeia de Piratininga. Nessa época São Paulo ainda era uma missão jesuítica e não uma cidade incorporada pela Coroa Portuguesa. Você pode questionar: “Mas o que importa é que já tinha gente morando lá e não a papelada do governo.” Se esse for o critério, a cidade seria ainda mais antiga porque que a aldeia de Piratininga já existia pelo menos desde 1532. Nesse caso São Paulo teria quase 490 anos. Comemoramos uma data religiosa que atropelou tanto a memória indígena quanto às leis civis do antigo império.
A história é um pouco mais complicada: passa pelo desmonte de uma outra vila, até hoje perdida, chamada Santo André da Borda do Campo. É importante saber que não tem nada a ver com a atual Santo André no ABC Paulista, a semelhança dos nomes é mera coincidência. Falaremos mais sobre S.A. da Borda do Campo em um futuro post, mas por agora o importante é saber que a vila foi fundada em 1553, o primeiro povoamento oficial no planalto paulista, comandado por João Ramalho. No entanto o assentamento não vingou e durou só sete anos, sofrendo muito com problemas de abastecimento e falta de segurança. As 15 famílias que viviam ali foram relocadas por ordem da Coroa até os arredores da aldeia de Piratininga em 1560, no que São Paulo foi oficialmente criada, pelo menos no que diz respeito ao poder público. A cidade-que-um-dia-foi-da-garoa é na verdade o resultado do amálgama de dois núcleos anteriores. Nas palavras de Gustavo Neves da Rocha Filho:
“(Na aldeia de Piratininga) a amizade entre índios e catequistas durou pouco tempo. Não podendo suportar a intromissão dos padres nos seus usos e costumes, principalmente contra a antropofagia e a poligamia, abandonaram a aldeia sem antes ameaçá-los com a promessa de os matar e de destruir a sua Igreja. Por isso, sentindo-se abandonados e sem forças para resistir a qualquer ataque, o padre Manuel da Nóbrega, visando também o interesse dos moradores da vila de Santo André da Borda do Campo, que sofriam com a falta de água por estarem localizados em local impróprio, sugere a mudança dessa vila para junto deles. A mudança foi autorizada pelo terceiro governador geral do Brasil, Mem de Sá, por provisão de 5 de abril de 1560. Mudou a vila o nome para São Paulo do Campo, depois São Paulo de Piratininga e finalmente São Paulo.”
Não seria errado, portanto, dizer que a nossa metrópole começou sua vida acolhendo refugiados.
OBS: Mais uma vez, a fonte principal desse texto é o blog do professor Gustavo Neves da Rocha Filho, principalmente o seguinte artigo:
http://historiadesaopaulo.com.br/a-verdade-sobre-a-fundacao-de-sao-paulo/
A belíssima ilustração desse post é de autoria de Vallandro Keating, do livro “Caminhos da Conquista”.
Encontre aqui: http://www.terceironome.com.br/caminhos.html

ULRICH SCHMIDL
ULRICH SCHMIDL
Um alemão faz a trilha do Peabiru em 1553, passando pela vila de João Ramalho.
A figura exótica no centro da ilustração, montada no que ele chamava de “ovelha indígena” (uma lhama) se chamava Ulrich Shmidl. O aventureiro alemão, filho de uma família de ricos comerciantes da Baviera, entrou no exército como mercenário em 1534 e se juntou à expedição de Pedro Mendoza: uma esquadra de 14 navios que continha “2500 espanhóis, 150 alemães, e 72 cavalos”. Ao chegar na América do Sul logo participou da sangrenta fundação de Buenos Aires, da qual sobrariam pouco mais de 500 homens após o embate com os índios Querandí. De lá subiram o Rio Paraná, explorando as terras dos Carios (ou Carijós), outro nome para o povo Guarani, onde se envolveu na fundação de Assunção do Paraguai. Schimdl se estabeleceu ali na próxima década e continuou acompanhando outras expedições, inclusive a Potosi na Bolívia (lembram da lenda do Rei Branco?).
Em 1552, quase vinte anos depois de ter partido da Baviera, Schmidl recebeu uma carta de seu irmão moribundo, implorando para que voltasse para casa com urgência a fim de cuidar da herança da família. É nesse momento que a historia do aventureiro bávaro cruza a nossa: tendo notícia de uma nau aportada em São Vicente que poderia levá-lo à Europa, o alemão decide fazer o percurso até lá por terra. O caminho, é claro, era o Peabiru. Schmidl parte de Assuncão de canoa com vinte escravos carijós. O percurso em território até o Rio Paraná foi razoavelmente tranquilo. Uma vez que entraram nas terras que são atualmente o oeste do Paraná, a coisa mudou drasticamente. Em seis meses de caminhada foram atacados algumas vezes. Em uma destas ocasiões tiveram que se refugiar no mato sem comida por quatro dias. Em outra, tiveram parte da comitiva devorada pelos inimigos. Sem sorte, até foram ameaçados por uma cobra de proporções mitológicas (provavelmente uma sucuri). Schmidl não viu nossos índios com bons olhos:
“Esta gente não tem outro entretenimento que guerrear continuamente, comer, beber e se
embriagar dia e noite, e dançar. Em resumo: levam uma vida grosseira e desenfreada, que não
se pode descrever. É, além do mais, uma ralé soberba e altiva.”
Palavras fortes vinda de um mercenário que já havia participado de alguns genocídios e viajava acompanhado de escravos. De qualquer forma, o alemão finalmente chegou em território paulista. No caminho a São Vicente ele passou pela vila de João Ramalho, Santo André da Borda do Campo, a povoação perdida que daria origem à população de São Paulo (veja o post anterior). A impressão de Schmidl a respeito dos nossos ancestrais também não foi das melhores. Segundo ele a vila era "um covil de ladrões”:
“chegamos a um lugar que pertencia aos cristãos cujo capitão era João Ramalho. Por sorte nossa não esteve na ocasião neste lugar, que me parecia um covil de ladrões. O dito capitão se encontrava então com outros cristãos em São Vicente, para cumprir certos tratos que tinham entre eles. Os índios, entre os quais vivem 800 cristãos em 2 lugares, estão sujeitos ao rei de Portugal e em poder do dito João Ramalho, quem, segundo diz, vive 40 anos nas Índias, governando, guerreando e pacificando o país, pelo que, por justiça, deveria seguir governando com preferência a qualquer outro. E como não conseguiu, entram em guerra uns contra os outros. Este Ramalho pode reunir em um só dia 5000 índios, enquanto que o rei somente junta 2000; tão grande é o poder que tem neste país. Quando chegamos ao dito lugar, estava ali o filho do dito Ramalho, ao que tivemos que temoer mais que aos índios, por melhor que nos tivesse recebido. Mas como tudo nos saiu bem, demos graças a Deus Todo Poderoso, contentes por termos escapado sem perigo.”
-
OBS: Existem inúmeras traduções dos relatos de Ulrich Schmidl online, se você quiser lê-los em primeira mão. O texto original é em alemão e foi posteriormente traduzido para o latim e o espanhol.
Uma boa versão em espanhol, com as ilustrações do livro: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/viaje-al-rio-de-la-plata-1534-1554/html/
Encontrei uma única versão do texto em português (de onde tirei as citações deste post) no doutorado da professora Thissiane Fioreto: https://repositorio.unesp.br/handle/11449/139419
Se quiser um resumo rápido da aventura, veja este link:
http://www.ribeiraopires.fot.br/Artigos/2014/140701-Schmidel.htm

PORTO DAS NAUS
PORTO DAS NAUS
A HISTÓRIA NÃO OFICIAL DO PRIMEIRO PORTO DO BRASIL.
O destino final da nossa caminhada é o local onde existiu o Porto das Naus, o primeiro “trapiche alfandegário” do Brasil. Por ali termina o Peabiru e começa o Oceano Atlântico. Hoje nesse ponto existem apenas as ruínas de um engenho de açúcar posterior ao ancoradouro, largadas à beira da Av. Tupiniquins (oh, ironia), na parte continental de São Vicente, próximo a Ponte Pênsil. O porto foi oficializado em 1532 por Martin Afonso de Sousa mas tem uma história mais antiga que (pra variar) inclui um personagem curioso: o Bacharel de Cananéia. Pouco conhecido na história oficial, este homem misterioso foi o primeiro europeu a viver na América do Sul, o que não é pouca coisa. Deve ter sido largado no Brasil em 1501 pela expedição de Américo Vespúcio, apesar de alguns acreditarem que ele tenha sido deixado aqui dois anos antes numa expedição secreta anterior a Cabral (mas aí talvez a gente esteja entrando num território histórico um pouco X-Files demais). Seja como for, Cosme Fernandes Pessoa, ou Duarte Peres (o nome depende da versão da história em que você acreditar), estabeleceu domínio em Cananéia (alguns historiadores crêem em sua ascendência judaica pela escolha do nome), bem onde passava a linha do Tratado de Tordesilhas. Em seguida expandiu sua atuação a boa parte o litoral sul, sendo o verdadeiro fundador de São Vicente por volta de 1502, quando também deve ter fundado o Porto das Naus. Não deve ser coincidência que o Bacharel tenha criado assentamentos em dois terminais do Caminho do Peabiru: São Vicente e Cananéia. É bom lembrar que já se tinha notícias das riquezas no interior do continente acessíveis por essa trilha. A gigantesca coincidência é que esse mísero degredado, literalmente entregue a deus numa terra hostil tenha por acidente caído bem na frente de um entroncamento tão importante. Não é então surpreendente que um dos associados mais próximos do Bacharel era outro degredado chegado alguns anos mais tarde: João Ramalho. Ambos rapidamente estabeleceram laços familiares com os grandes caciques da região onde moravam, ambos se situaram ao longo do Peabiru e juntos controlaram um lucrativo comércio de escravos a partir do Porto das Naus. Na prática, então, a fundação de São Vicente por Martim Afonso de Sousa só veio atrapalhar estes chefões do tráfico, enfiando a Coroa Portuguesa no meio. João Ramalho negociou. O Bacharel foi embora e prometeu vingança. No meio disso tudo, danem-se os índios, o importante é cada um levar o seu. E assim, com essa transação muito familiar, ia nascendo o Brasil.
OBS: O mapa desse post foi elaborado em cima do mapa de 1922 organizado por Benedito Calixto.

A PONTE DA TABATINGUERA
A PONTE DA TABATINGUERA
Esta foi a primeira ponte de São Paulo a ter registro histórico, numa Ata da Câmara em 1572. Suas menções em documentos antigos são importantes para a localização da Trilha do Tupiniquins e consequentemente o Caminho do Peabiru dentro da cidade. Com o fechamento oficial do Peabiru por Mem de Sá em 1560 uma nova via teve que ser aberta. Hoje ela é conhecida como Caminho do Padre José (em homenagem a Anchieta) mas na época era simplesmente chamada de “caminho novo”. O caminho velho, logo, era a Trilha dos Tupiniquins. Na ata de 18 de abril de 1620 vemos uma menção a esse antigo acesso:
“Here necessário tomar caminho p.a serventia desta vila p.a o rio Tamandoatihi por ser agoada e caminho real m.to antiguo e por respeito da ponte que ora esta feita por ser caminho antiguo e estar esta vila de posse dela”.
Esta ponte que cruzava o Tamanduateí era a da Tabatinguera, como o resto do texto da ata ajuda a localizar através da indicação das sesmarias ao redor. Ela existiu, em diversas incarnações diferentes, por pelo menos 350 anos. Não consegui encontrar a data exata de sua demolição mas a última foto que achei é da década de 1910 e o Tamanduatéi já estava retificado em 1930, em algum lugar aí no meio reside o seu óbito.
Hoje a ponte ficaria na R. Frederico Alvarenga entre a R. Tabatinguera e R. Glicério. O Rio passava no meio dessa quadra, por isso é impossível fotografar do ângulo da famosa pintura de Almeida Junior para fazer uma comparação. Aliás, a tela está no acervo da Pinacoteca de São Paulo, façam uma visita!
Na ocasião da nossa caminha fotográfica em julho, encontramos uma cena um pouco surreal nessa esquina. Como se a história natural viesse à superfície de tempos em tempos para lembrar quem é que manda, um enorme vazamento de água corria bem de onde começava a ponte. Quantos ali sabiam que estavam pisando sobre o túmulo do Tamanduateí?
OBS: As informações históricas desse post vem principalmente do trabalho “Peabiru: Uma Trilha Indígena Cruzando São Paulo” de Daniel Issa, FAU-USP, 1998

O “Paêbiru” e Os Caminhos da História Oral - PARTE 1
O “Paêbiru” e Os Caminhos da História Oral - PARTE 1
Essa é pra quem gosta de música e psicodelia! Dividi em 4 posts porque o texto é longo:
Em 1974 Lula Côrtes e Zé Ramalho se juntaram em Recife para criar um dos discos mais excêntricos da história da música brasileira: “Paêbirú: Caminho da Montanha do Sol”. Com apenas 1300 cópias prensadas, o álbum experimental foi um fracasso no lançamento. Não bastasse isso, a gravação obscura quase foi apagada da história numa enchente que submergiu a capital de Pernambuco no ano seguinte e destruiu quase todos os LPs exceto os poucos que haviam sido guardados na casa da mulher de Lula Côrtes. As décadas se passaram, o boca-a-boca foi aumentando, as cópias pirata se espalhando pelo globo... e hoje o álbum é reconhecido como um dos maiores clássicos mundiais da música psicodélica. De fato, um exemplar original de “Paêbiru” pode custar mais de R$10 mil desbancando “Louco Por Você”, o primeiro disco de Roberto Carlos, como LP mais caro do Brasil.
Mas o que realmente nos interessa aqui é: como a lenda do Peabiru foi parar nessa obra prima nordestina?
Tudo começa numa viagem de Ramalho e Côrtes à Pedra do Ingá, uma área rochosa no interior da Paraíba com um grande paredão entalhado com belíssimas inscrições. Não se sabe a origem destes petróglifos mas é bem provável que tenham sido obra de nativos da região em tempos pré-históricos. As condições locais impedem a medição por Carbono 14 então a sua datação é um mistério. Obviamente isso é um terreno fértil para o florescimento de lendas. Ao longo dos anos índios, fenícios, egípcios e, mais recentemente, alienígenas dividiram a autoria do monumento na cultura popular. Lula e Zé, acampados nas redondezas, se deixam levar pela beleza dos indecifráveis desenhos que lhes revelam imagens de uma ancestralidade perdida e, quem sabe, sob efeito de um “poderoso psicotrópico”, decidem fazer um álbum conceitual.
(CONTINUA NO PRÓXIMO POST!)

O “Paêbiru” e Os Caminhos da História Oral - PARTE 2
O “Paêbiru” e Os Caminhos da História Oral - PARTE 2
Procurando substrato para sua criação, a dupla sai em pesquisa pela região ao redor de Ingá. De acordo com uma reportagem de Cristiano Bastos na revista Rolling Stone em 2009 (quando Lula Côrtes ainda era vivo), o resultado é um dos mais deliciosos telefone-sem-fio historiográficos que já li:
“Nas adjacências vivia um grupo de índios cariris. Os músicos foram até eles, atrás da peculiaridade do seu tipo de música. Ouvindo, descobriram que os traços de uma cultura africana tinham se fundido à sonoridade dos indígenas. Se fundamentado em registros arqueológicos, Zé Ramalho e Lula Côrtes concordaram que, a partir daquele ponto, haveria um caminho que partia de São Tomé das Letras (onde existem registros da mesma escrita rupestre traçada na Pedra do Ingá) e conduzia até Machu Picchu, no Peru. A trilha que os Cariris chamavam de Peabirú.” Côrtes também tinha convicções muito próprias a respeito da autoria dos petróglifos e da identidade de seu criador:
“Lula Côrtes gosta de acreditar na epopéia interplanetária narrada em "Trilha de Sumé", a abertura de Paêbirú. "As gravações na Pedra do Ingá foram feitas com raio laser mesmo", afiança o artista, que cantarola a introdução da música, o alinhamento dos planetas: "Mercúrio/Vênus/Terra/Marte/Júpiter/Saturno/Urano/Netuno e Plutão". Os versos seguintes cantam a saga de Sumé, "viajante lunar que desceu num raio laser e, com a barba vermelha, desenhou no peito a Pedra do Ingá".
Ainda na mesma matéria, o músico nota que durante suas pesquisas percebeu que “na variedade de lendas, todas eram sobre Sumé” e que “a crença indígena diz que, quando o pacifista Sumé se foi embora, expulso pelos guerreiros tupinambás daquelas terras, deixou uma série de rastros talhados em pedras no meio do caminho. Os índios acreditam que Sumé teria ido de norte a sul, mata adentro, descerrando a milenar trilha "Peabirú”. E completando: “Para "libertar" os indígenas da crença pagã, os jesuítas pontificaram Sumé como "santidade": virou São Tomé.”
(CONTINUA NO PRÓXIMO POST!)

O “Paêbiru” e Os Caminhos da História Oral - PARTE 3
O “Paêbiru” e Os Caminhos da História Oral - PARTE 3
Tem muita fantasia nas histórias de Lula Côrtes, é claro. Pouca gente acreditaria hoje num alien ruivo surfando um raio laser pra vir pixar uma pedra no sertão da Paraíba, mas a influência da cultura new-age fazia parte da época. Além disso, o processo de antropofagia cultural é um patrimônio brasileiro. Por exemplo, na mesma época da concepção musical de “Paêbiru” uma nova religião estava sendo criada no Distrito Federal: o Vale do Amanhecer adicionava seres extraterrenos e egiptologia sobre o panteão da Umbanda.
A referência ao túnel de São Thomé das Letras até Machu Picchu também é uma lenda muito conhecida entre viajantes. Todo mundo que já participou de uma rodinha ao redor de uma fogueira sabe que alguém eventualmente aparece com esse papo nas altas horas da noite. É bem possível que isso seja uma criação da mesma era do nosso heróico album psicodélico. Esta lenda em si é uma miscelânea. As “Letras” da cidade de São Thomé eram pinturas rupestres encontradas numa gruta local que, assim como as gravuras na Pedra de Ingá, foram inicialmente explicadas como as marcas da passagem do apóstolo de Cristo por terras americanas. Sumé foi sincretizado com São Tomé pelos jesuítas, como nota Côrtes (para saber mais procure meu post anterior “Sumé vs. São Tomé”). Para os povos Tupi-Guarani do Sudeste, Sumé teria criado o Peabiru que, de fato, ligava a costa sul do Brasil ao Peru pré-colonial. Milhares de rodinhas de violão depois, a confusão entre Sumé e São Tomé, mais as inscrições no fundo da gruta escura, mais um caminho misterioso que levava ao Peru deve ter se cristalizado na atual lenda do incrível túnel que liga a pitoresca vila mineira a um dos mais famosos centros espirituais do mundo.
(CONTINUA NO PRÓXIMO POST!)

O “Paêbiru” e Os Caminhos da História Oral - PARTE 4
O “Paêbiru” e Os Caminhos da História Oral - PARTE 4
Tudo aponta que os jesuítas foram responsáveis pelo espalhamento indiscriminado do Caminho do Peabiru pelo território brasileiro. Sumé é uma entidade mitológica Tupi-Guarani. Isso quer dizer que tanto os Guarani do interior da região Sul quanto os povos Tupi de todo o litoral do Brasil contam a história dessa entidade. Já o Peabiru era uma rede de caminhos com uma localização geográfica específica, cruzando São Paulo, Paraná e Santa Catarina em direção ao Paraguai e além. Essa foi a região onde os primeiros jesuítas estabeleceram suas missões. A partir dali os padres levaram a lenda do que eles chamavam de “Caminho de São Tomé” para o resto do Brasil.
Ainda que isso explique porque Lula Côrtes e Zé Ramalho ouviram falar sobre a trilha sulista no extremo Nordeste, ainda fica uma questão: os Cariri são um povo do tronco linguístico Macro-Jê. Eles não tinham a mesma mitologia dos Tupi-Guarani e falavam uma lingua completamente diferente. Apesar da proximidade física, linguisticamente é como se um espanhol te contasse uma lenda marroquina em árabe como se tivesse acontecido em Sevilha. Os Cariri foram um povo que dominou o sertão do Nordeste por muitos séculos até serem praticamente dizimados por outro grupos indígenas e colonizadores. No começo dos anos 70 realmente ainda existiam Cariri próximos à região da Pedra do Ingá, mas deviam estar bastante miscigenados. Côrtes chega a mencionar a influência africana na música deles.
No final, o que Lula Côrtes e Zé Ramalho fizeram intuitivamente foi costurar todo um universo de lendas populares e história oral com sua própria experiência de vida como artistas nos anos 70. Historicamente correto? Definitivamente não! Excitante e encantador? Com certeza. O que que me atrai em tudo isso é como no vácuo entre a história oficial e o nosso desejo profundo de criar uma narrativa à altura da riqueza e diversidade do nosso passado, brotam pérolas tortas como o “Paêbiru”, onde até a inversão das vogais no título confessa as origens orais do projeto.
Se quiser saber mais sobre a história da criação deste disco, leia a reportagem de Cristiano Bastos que também dirigiu o documentário “Nas Paredes da Pedra Encantada:
https://rollingstone.uol.com.br/edicao/24/agreste-psicodelico/

O SALTO DE SUMÉ
O SALTO DE SUMÉ
Inaugurando aqui um espaço para colaborações com essa linda ilustração de Sumé por João Lavieri. É muito gratificante quando um artista que eu admiro demonstra interesse pelo projeto então me empolguei e logo mandei a ele um um trecho do livro “Meu Destino É Ser Onça” do escritor carioca Alberto Mussa:
“Sumé era também um grande caraíba e fazia coisas extraordinárias. Todavia, diferentemente de Maíra, Sumé cortava os cabelos em forma de meia-lua. Naquele tempo, as pessoas que comessem a raiz da mandioca morriam, envenenadas. Era uma época difícil, de muita fome, porque os alimentos não brotavam com a mesma abundância da terra-sem-mal. Certo dia, Sumé veio de dentro do mato, para receber a homenagem devida aos caraíbas. Vendo que passavam muita fome, mandou que trouxessem raízes de mandioca. Sumé pegou as raízes que todos sabiam serem venenosas e pôs tudo de molho em água. Quatro dias depois, pegou a raiz e pisou muito em cima dela, até fazer uma massa. Depois disso, enrolou a massa numa folha de casca de árvore e espremeu tudo até esgotar toda a umidade. Terminada a cura, Sumé levou aquela farinha ao fogo, e mexeu até que secasse todo o resíduo de umidade. As pessoas observavam o processo, curiosas. Mas, quando Sumé ofereceu a farinha pronta, ninguém quis comer, imaginando que fossem morrer imediatamente. E viraram as costas a Sumé. O grande caraíba, indignado com o desprezo que não merecia, foi andando de aldeia em aldeia, ensinando a cura e o modo de fazer a farinha, que podia aliviar a fome. Mas ninguém acreditou nele. Pelo contrário, começaram a achar que Sumé desejava matá-los. Convencidos disso, homens se reuniram e decidiram matar Sumé. E partiram no seu rastro. Surpreendido pelo ataque, Sumé fugiu. Enquanto Sumé corria, os matos se abriam à sua passagem; e ele atravessava os rios sem se molhar. Os homens, então, atiraram contra ele suas flechas. Mas Sumé fazia as flechas retornarem, e assim eram os atiradores que morriam flechados. Nessa fuga, Sumé chegou à sua oca, que ficava bem diante do mar, perto de um rochedo. Desgostoso com a ingratidão dos homens, fez sua oca virar pedra, fez sua jangada virar pedra, e deu um salto monumental, atravessando toda a extensão do oceano, para atingir o céu. As marcas dos pés de Sumé ainda podem ser vistas, gravadas na rocha. Os poucos que acreditaram nele, e provaram da farinha, não morreram. E Sumé às vezes aparece no céu, onde é Seixu, o Setestrelo. Seixu armou no céu um jirau, para moquear carne. E é de lá que faz crescer a mandioca, no início das chuvas.”
Lindo, não é? Alberto Mussa “restaura” literariamente a epopéia mítica dos Tupinambá (povo Tupi que vivia no litoral do Rio de Janeiro) a partir dos relatos de época em “Cosmografia Universal”, obra do frade André Thevet que em 1555 conviveu com esses índios. Selecionei a menção principal a Sumé. É bom lembrar que essa é uma entidade presente na mitologia de povos indígenas dos Andes ao litoral brasileiro. Diferentes grupos e línguas tem diferentes variantes do mito. Esta é dos Tupinambá. O interessante dessa versão é ela ter sido coletada ainda muito cedo durante a invasão européia e o frade que a descreveu ser consideravelmente mais interessado na visão nativa do que seus contemporâneos. Jesuítas como Manuel da Nóbrega basicamente viam em Sumé a oportunidade de sincretismo com São Tomé para auxiliar e justificar a catequese, sem grandes preocupações com a história original. O ser mitológico mais famoso do Brasil colônia era muitas vezes descrito, aparentemente pelos próprios índios, como um homem branco e barbado, às vezes usando bata e tendo olhos azuis. Não tenho como afirmar se isso foi uma tremenda coincidência ou uma corrupção européia. Tudo indica que é a segunda opção. Ora, se o mito é indígena, Sumé deveria se parecer com eles, como todo mito é reflexo do povo que o criou. Outra pista é a palavra “caraíba” usada pelos índios como “sobrenatural” mas posteriormente também para descrever os homens brancos, estranhos a aquela terra. Sumé é um “caraíba”, um ser mítico, de outro mundo. Não é difícil imaginar um europeu interpretando a frase como “um caraíba, assim como nós”.
Seja como for, deixo aqui o que acredito ser a primeira ilustração de Sumé de acordo com a mitologia Tupinambá, ou pelo menos de como a história foi contada por eles a 450 anos atrás.

AS POTÊNCIAS POLITICAS SUL-AMERICANAS PRÉ-COLONIAIS E A BOLÍVIA DE HOJE
AS POTÊNCIAS POLITICAS SUL-AMERICANAS PRÉ-COLONIAIS E A BOLÍVIA DE HOJE
Estava trabalhando num post longo sobre a guerra entre Incas e Guaranis na atual Bolívia quando, coincidentemente, Evo Morales sofreu o golpe. Em breve vou compartilhar essa história mas já que as atenções estão viradas pro miolo do nosso continente vou dividir um mapa baseado nessa pesquisa recente.
Tradicionalmente achamos que os colonizadores pisaram aqui e de um dia pro outro tudo foi ocidentalizado. Na realidade isso foi um processo de séculos em que os europeus foram meros figurantes por um bom tempo. As reais potências da América do Sul dos 1500s eram o Tawantinsuyu (Império Inca), uma enorme unidade política multi-étnica que dominava quase toda a costa do Pacífico e os Andes, e uma confederação étnico-religiosa de inclinações messiânicas: Os Guarani.
Enquanto os Incas, no auge da sua expansão, procuravam finalmente dominar as terras baixas atrás dos Andes (a Amazônia, o Chaco e os Pampas), os Guarani sedimentavam alguns séculos de migrações em busca da “Terra Sem Mal” em várias direções. Um desses destinos era o pé dos Andes. Estas forças que pressionavam em sentidos diferentes provocaram uma guerra que envolveu por volta de 2 mil Guarani e mais de 10 mil Incas ao redor da atual cidade de Sucre na Bolívia.
Ainda vou contar em detalhes a história dessa grande guerra mas por hora só quero notar que a separação política da Bolívia ATÉ HOJE é resultado destas duas frentes de colonização, uma de origem andina e outra das terras baixas. O mapa eleitoral de 2005 quando Evo Morales conquistou a presidência pela primeira vez é praticamente o mesmo da divisão entre a influência Inca e a Guarani. Mas muito cuidado com as falsas equivalências! Não faz sentido dizer que Incas são de esquerda e Guarani são de direita, mas que a colonização a partir das terras baixas se deu de forma diferente da colonização de origem andina. O leste da Bolívia faz divisa com o Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. São regiões com antiga tradição latifundiária e essa organização foi se expandindo a oeste na encalço dos Guarani até chegar no pé dos Andes bolivianos onde hoje é Santa Cruz de La Sierra, reduto político da direita. E sabe o que passava ali também, né? Claro, o Peabiru.
As informações desse post vem de várias fontes mas a mais resumida é este site: http://historiadelatinoamerica.com/
Se quiser saber mais sobre a nossa política pré-colonial, leia esse post: http://historiadelatinoamerica.com/guaranies-contra-inkas-el-ataque-de-las-tierras-bajas/

INCAS VS. GUARANIS - PARTE 1
INCAS VS. GUARANIS (e uns portugueses no meio)
PARTE 1
Uma das maiores batalhas da história sul-americana é praticamente desconhecida, principalmente no Brasil, apesar de ter contado com a presença de vários índios (e alguns portugueses) vindos da costa do atual estado de Santa Catarina. Por volta de 1525, ao pé dos Andes bolivianos, um encontro bélico de milhares de guerreiros fez colidir dois grupos até hoje considerados isolados entre si: Incas e Guaranis.
O contexto
Nesta época os Incas ainda não haviam feito contato com os europeus. Pizarro só iria invadir o Tawantinsuyu (nome do império em Quechua) em 1532, o mesmo ano da fundação da primeira vila brasileira, São Vicente. Isso quer dizer que apesar de ser uma guerra travada pós-“descobrimento”, a presença dos europeus ainda era irrelevante. Em todo território nacional havia apenas algumas dúzias de brancos. Imagine isso: em TODO o Brasil havia menos gente branca do que na sua festa de fim de ano da firma. Por outro lado os indígenas existiam aos milhões e em cidades muito maiores do que as aldeias atuais, às vezes com mais de 3 mil habitantes.
A etnia Guarani tem sua própria história dentro disso, claro. Vindos da região amazônica há mais de um milênio, esse povo originalmente Tupi migrou para o sul do continente ao longo dos séculos e acabou se diferenciando do resto (por isso falamos da cultura Tupi-Guarani). Os Guarani do século XVI eram um povo guerreiro, místico e altamente móvel. Não se organizavam em um estado como os Incas, muito pelo contrário, rechaçavam qualquer tipo de estrutura vertical. Era um povo anarquista. Como viviam em cidades independentes sem grandes lideranças, se conectavam por meio de uma fortíssima identificação étnica. Ao contrário dos índios do Xingú que já viviam em enormes aldeias multi-étnicas nessa época, os Guarani não mantinham relações amistosas com outros grupos. Mesmo assim, sem império nem alianças externas eles se espalharam por uma área vasta: sul do Brasil, Uruguai, Paraguai, o norte da Argentina e, finalmente, a Bolívia.
O impulso principal para estas migrações era uma crença fundamental da cultura Guarani: a busca da “Terra Sem Mal”. O que é isso? Aguarde a PARTE 2 dessa história!

INCAS VS. GUARANIS - PARTE 2
INCAS VS. GUARANIS (e uns portugueses no meio)
PARTE 2: A “Terra Sem Mal”
A crença propulsora da migrações Guarani por distâncias incrivelmente longas foi a busca de "Yvy Marae’y" (Yvy = terra, Marae’y = puro, imaculado). Para diferentes grupos, em diferentes épocas, isso significou coisas um pouco distintas mas o conceito básico parece ter sido o mesmo. Em sua dimensão mais prática, era a busca de uma “terra boa” para o estabelecimento de uma nova aldeia ao final do ciclo de fertilidade do cultivo no sistema de queimada em que toda a tribo tinha que se relocar de alguns em alguns anos, continuamente. Mas isso é só o começo da conversa. A “Terra Sem Mal” é um ideal de perfeição que movimenta todo o “ser” Guarani. Não existe separação fundamental entre agricultura, política e religião. Tudo é parte integral de uma forma específica de viver: o “Teko”. Essa palavra pode ser traduzida como “cultura”, “leis”, “valores”. O “Tekoha” é o local físico onde o “Teko” tem a possibilidade de prosperar. A busca de um Tekoha onde possa ser construída uma aldeia precisa atender vários critérios, começando por praticidades geográficas até chegar em questões espirituais muito complexas. Não existe uma explicação simples e depende da interpretação do ideal de “Yvy Marae’y” pelos Karaí, os líderes espirituais que em certas situações atuavam como profetas. Esse era o verdadeiro motor do movimento, e as interpretações variam muito.
É comum a identificação desta terra prometida com o oceano e as caminhadas messiânicas na direção leste. Em parte isso tem a ver com o encontro dos europeus vindos de regiões Atlânticas com os Guarani que vinham do interior do continente e lhes contavam essa história. Pesquisas arqueológicas recentes mostram que a expansão aconteceu em todas as direções a partir do atual Paraguai, e dessa andanças uma rede de caminhos foi aberta. Ela é chamada de, bom, vocês sabem: Peabiru.
Mas, a migração que interessa para a nossa história em questão, e que culminou na grande batalha andina, é peculiar porque foi muito mais distante do que as outras de que se tem notícia e pela interpretação específica da “Terra Sem Mal” que a motivou. Mas, é claro, vocês só vão saber mais no próximo post!

INCAS VS. GUARANIS - PARTE 3
INCAS VS. GUARANIS (e uns portugueses no meio) - PARTE 3: EM DIREÇÃO À FRONTEIRA.
A maior fronteira territorial da América do Sul é a cordilheira dos Andes. A maior divisão cultural é entre os povos do altiplano e os povos das terras baixas. Os montanheses tiveram uma série de estados imperiais de arquitetura monumental (Wari, Tiwanaku, Inca) enquanto ao leste milhares de povos se organizaram em grupos móveis e independentes. Apesar da arqueologia atual provar a complexidade das culturas de matriz amazônica, como andavam nús e não produziam grandes monumentos em pedra, foram considerados inferiores por Incas e europeus. Em parte o desdém pelos “povos de arco-e-flecha” vem do fato do Tawantinsuyu nunca ter conseguido romper suas defesas. Mas ao longo dos séculos as relações nem sempre foram belicosas. Algumas tribos mais pacíficas se tornaram aliadas. A diplomacia imperial era converter líderes através de acesso a ouro e prata. Estes serviam como embaixadores da opulência Incaica e enquanto a fronteira se expandia, a notícia se espalhava pelo continente. Assim, os Guarani, que já tinham ocupações na região, e passaram a fazer incursões para saquear os metais dessas povoações andinas, para uso próprio (armas e ferramentas) e para comércio. Nos primeiros relatos da colonização alguns índios se referiam a um povo ou lugar chamado “Candire” atrás das montanhas ao oeste que possuíam tesouros inimagináveis. Hoje sabemos se tratar do império Inca. A descrição idealizada dessa “terra de abundância” acabou por se conflagrar com a “Terra Sem Mal” e, talvez por causa dos brancos, a busca do “Kandiré” que era inicialmente um ataque para pilhar recursos acabou por virar sinônimo de Yvy Marae’y, um conceito mais propriamente ligado a migração. Essa motivação ainda é conjectura, não existe resposta definitiva nem divisão clara entre migração/invasão como entendemos hoje. De qualquer forma, confederações enormes de Guaranis de todo o território sul-americano se atiravam em direção aos Andes atrás de riquesas, não de novas terras cultiváveis. Uma dessas investidas coletivas foi a grande caminhada que, contando com indígenas de Santa Catarina (e uns portugueses) atravessou o continente e destruiu uma série de fortificações Incas, como vamos ver no próximo post!

INCAS VS. GUARANIS - PARTE 4
INCAS VS. GUARANIS (e uns portugueses no meio) - PARTE 4: A BATALHA
A primeira descrição da batalha é de Pedro Sarmiento de Gamboa em 1572: “Mientras Huayna Cápac (penúltimo rei Inca) estaba ocupado en esta guerra de los cayambes, los chiriguanas, que es una nación de montaña, desnudos y que comen carne humana, y de ella tienen pública carnicería, se juntaron, y saliendo de la aspereza de los montes, entraron en la tierra de los charcas, que estaba conquistada por los incas del Pirú. Y dieron en la fortaleza del Cuzcotuyo, adonde el inca tenía grande guarnición de fronteros contra los chiriguanas. Y como salieron de repente, entraron a la fortaleza y matáronlos a todos e hicieron en los de la tierra gran estrago, robos y muertes.” Depois disso o imperador teria ido com milhares de soldados até lá para expulsar os invasores.
“Chiriguanas” era o nome depreciativo que os Incas davam ao povos de “arco-e-flecha” e em Quechua provavelmente significava “os que morrem de frio” (ou “cagados de frio”), porque não tinham o corpo vestido. Posteriormente passou a definir exclusivamente os povos falantes de Guarani que se estabeleceram no piemonte andino e se miscigenaram com os Chané (povo Arawak local) ao redor da época desta guerra. O nome persiste até agora mas os poucos que sobreviveram à colonização hoje se auto denominam Avá-Guarani (avá = homem).
Esse relato não era considerado confiável até que ao longo do séc. XX uma série de ruínas de fortalezas incaicas foram encontradas exatamente na região onde a guerra é descrita. Inclusive a que é nomeada do texto: Cuzcotuyo (ou Cuzcotoro). Encontrada por arqueólogos finlandeses em 93, o forte ficava numa serra sugestivamente chamada "Khosko Toro”. Verificados o local e a construção, só faltava provas da presença Guarani. Entra Sonia Alconini, arqueóloga boliviana que estuda a região de “Charcas” há décadas. Em suas escavações recentes ela encontrou não apenas cerâmica “chiriguana” como indícios de ocupação a longo prazo. As datações em C14 também batem: de meados do séc. XV até começo do séc. XVI. Além disso, os muros parecem ter sido derrubados à força e foram achadas muitas pilhas de pedras de funda (tipo de estilingue, usado pelos Incas). Tá… Mas quem eram OS PORTUGUESES? Próximo post!
Um adendo ao texto: a batalha em questão não foi a única e nem a primeira vez que os Guarani chegaram nessa região. Provavelmente já subiam a serra antes do império Inca incorporar a área. Até meados dos século XV ali existia a confederação dos Charcas, uma reunião de reinos predominantemente Aymara. Acredita-se inclusive que e a formação dessa aliança entre reinos foi precipitada pelas invasões Guarani. A região dos Charcas, hoje em grande parte dentro do departamento de Chuquisaca na Bolivia já era um centro de extração de metais preciosos e talvez os Guarani já saqueassem estes povoados antes mesmo dos Incas chegarem lá. Nestas ondas migratórias uma nova etnia Guarani foi criada, hoje conhecida como “Chiriguanos” que continuou se expandindo até depois da colonização. Esse povo foi o que deu mais trabalho aos espanhóis e só foram derrotados efetivamente no fim do século XIX num dos maiores massacres indígenas da Bolívia.

INCAS VS. GUARANIS - PARTE 5
INCAS VS. GUARANIS (e uns portugueses no meio) - PARTE 5
Em 1516 uma galé espanhola que retornava do Rio da Prata afunda ao sul da Ilha de Santa Catarina. Um punhado de marinheiros nada até Maciambu, hoje no município de Palhoça. Ali existia uma aldeia Guarani que resgatou os sobreviventes. Um deles era um português chamado Aleixo Garcia que vários de vocês já conhecem como o “descobridor do império Inca”. Esperei até aqui para mencioná-lo porque me parece que sua participação nessa história é menos heróica do que é tradicionalmente considerada. Aparentemente os náufragos viveram em relativa harmonia com os nativos mas Garcia parece ter se destacado: aprendeu a língua muito rápido e ganhou um nome Guarani: “Maratya”. Depois de sete anos de convivência na aldeia, tendo conquistado a confiança da tribo, um caminho secreto lhe é revelado: o Peabiru. As promessas de riqueza lhe sobem à cabeça e Aleixo resolve então invadir o interior do continente atrás de metais preciosos. A partir daqui seu protagonismo me parece forçado: De repente, um único português organiza uma expedição privada convencendo mais de dois mil Guaranis a caminharem em direção aos Andes. Se Garcia realmente usufruiu do status de Karaí, e realmente outros brancos se aproveitaram de sua própria estranheza para encarnar curandeiros e profetas (como Hans Staden), ainda assim soa fantasioso atribuir um poder desses a uma única pessoa, ainda mais considerando tudo o que vimos até agora sobre política “difusa” Guarani. É muito mais cabível que o viés dos relatos dos europeus, os únicos indícios desses eventos que tínhamos até pouco tempo, tenham elevado o papel do homem branco. É bem provável que Aleixo tenha tido uma influência local mas uma caminhada épica como essa seria uma mobilização coletiva de várias lideranças indígenas. Realmente, a data teórica da incursão de Garcia, 1525, bate com a da guerra que venho narrando nestes posts. A chance é grande de serem o mesmo evento. No entanto, já vimos aqui que as grandes migrações para a Yvy Marae’y e as alianças bélicas Guarani já existiam muito antes de Garcia. Faria muito mais sentido ele ter se juntado ao movimento do que tê-lo criado.
Depois dos Guaranis terem destruído fortes e saqueado uma série de vilas nas serras de Chuquisaca, o imperador Inca Huyana Capac manda um exército de milhares de soldados e os afugenta. Na volta da empreitada, carregando muitas arroubas de objetos de ouro e prata, Aleixo resolve mandar algumas amostras do tesouro para seus colegas europeus na costa de Santa Catarina, junto com algumas cartas. O próprio Garcia nunca voltaria da viagem, tendo sido morto à beira de um afluente do rio Paraguai perto da atual Assunção, aparentemente pelos próprios índios que acompanhava. Infelizmente suas cartas se perderam na história e nunca vamos saber como o próprio Aleixo descreveu sua saga, mas os espólios que chegaram à costa geraram uma onda de entusiasmo tanto da coroa Espanhola como da Portuguesa. É bom lembrar que nessa época o Peru ainda não tinha sido invadido. Ainda se procurava uma via de acesso até os Andes por terra a partir do Atlântico e o Peabiru era esse caminho. Isso inclusive influenciou a fundação de São Vicente, criada ali pelo acesso fácil ao interior pelas trilhas indígenas. Só que a primeira cidade (oficial) do Brasil foi criada bem no mesmo ano em que Pizarro alcançou o império Inca pelo Oceano Pacífico e em seguida saqueou a maior quantidade de ouro já vista no mundo até então. Na sequência, o litoral sul do Brasil foi praticamente abandonado pela coroa Portuguesa.
ADENDO: A maioria aqui deve conhecer essa história através do livro de Rosana Bond “A Saga de Aleixo Garcia: o Descobridor do Império Inca”. Amado pelo público geral e rejeitado por acadêmicos, o livro tem o grande mérito de apresentar eventos que em geral foram desprezados pela historiografia brasileira (Sergio Buarque de Holanda sendo uma famosa excessão). Realmente, a começar pela palavra “descobridor” no título, o texto não é uma tese acadêmica “séria”, mas nem se pretende a isso, como a própria autora declara na introdução. Bond não é uma historiadora mas uma contadora de histórias que se apaixonou por um assunto absurdamente ignorado até então (assim como o eu, diga-se de passagem). Na minha opinião, boa parte das limitações do livro está nas fontes que ela possuía em meados dos anos 90 quando ele foi publicado. A arqueologia da região ainda engatinhava e poucos estudiosos se debruçavam sobre o assunto. A julgar pelas datas dos estudos que usei de base para os meus posts, quase todos de 2005 pra cá, estamos presenciando uma explosão muito recente de interesse pela história pré-colonial americana. Oxalá! Espero que vocês também se contagiem por isso e se interessem em ler mais sobre o assunto. Amanhã vou publicar toda a minha bibliografia. Como é MUITA coisa, merece um post à parte.

INCAS VS. GUARANIS - PARTE 6
INCAS VS. GUARANIS (e uns portugueses no meio) - PARTE 5: A BIBLIOGRAFIA
Chegou a hora! Vamos ler essa história das fontes confiáveis e não de um estranho no Insta? Tenho uma boa e uma má notícia. A boa é que dando google vocês vão ser capazes de encontrar muita coisa online, principalmente os trabalhos acadêmicos em www.academia.edu A má notícia é que a maioria dos textos não está em português. Vamos a praticar el español, hermanos! Qualquer dúvida, comentem na postagem que eu respondo.
HISTÓRIA GERAL:
Visão do Paraíso de Sérgio Buarque de Holanda
1499, o Brasil antes de Cabral de Reinaldo José Lopes
Náufragos, Traficantes e Degredados e “Capitães do Brasil ambos de Eduardo Bueno
CULTURA TUPI-GUARANI:
As Lendas da Criação e Destruição do Mundo, Curt Nimuendaju
La Tierra sin Mal, Bartolomeu Meliá
A Sociedade Contra o Estado, Pierre Clastres
Terra sem mal: o profetismo tupi-guarani, Hélène Clastres
The Guarani, Alfred Metraux
Cultura Guarani, Dionísio Gonzales Torres
La Civilizacion Guarani, Moises Santiago Bertoni
ESTUDOS SOBRE A REGIÃO E A GUERRA:
Aleixo Garcia and The White King, Charles Nowell
La Expansion Guarani en el Sur de Bolivia: Cuzcotuyo en Perspectiva e The Southeastern Inka Frontier against the Chiriguanos, ambos de Sonia Alconini
At The Limits of Empire: Incas, Spaniards, and Ava-Guarani on the Charcas-Chiriguana Frontier, Jonathan Scholl
Cuzcotoro and The Inca Fortification System in Chuquisaca e Fortifications related to the Inca Expansion, ambos de Martri Pärssinen e Ari Siiriäinen
De los candires a Kandire, El Paititi y las migraciones guaraníes, Las rutas prehispánicas del metal andino, os três de Isabelle Combès
The Guarani Invasion of the Inca Empire in the Sixteenth Century, Erland Nordenskiold
CRÔNICAS (relatos de época):
Luis Ramírez, “Carta a su padre” (1528)
Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, “Comentários” (1555)
Pedro Sarmiento de Gamboa “Historia General Llamada Índica” (1572)
Garcilaso de la Vega, “Comentarios Reales de Los Incas” (1609)
Ruy Díaz de Guzmán, “La Argentina Manuscrita” (1612)
Martín de Murúa, “Historia General del Piru” (1616)
Fernando de Montesinos, “Memorias antiguas i nuevas del Pirú” (1642)
Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela, "Historia de la Villa Imperial de Potosí” (1707-1736)
ADENDO: Este foi um blog muito importante pra a pesquisa, na forma como tenta recontextualizar a história da América do Sul pela ótica nativa: http://www.historiadelatinoamerica.com

Feliz Dia Mundial do Livro!
Feliz Dia Mundial do Livro!
Como os seguidores dessa página adoram história e trilhas, recomendo ‘On Trails’, do jornalista americano Robert Moor. Infelizmente ele ainda não foi traduzido para o português mas para quem puder ler em inglês, é imperdível. Moor, um trilheiro inveterado, vai fundo na questão “O que é uma trilha?”, rebobinando a história até 500 milhões de anos atrás, quando os primeiros seres vivos começaram a se movimentar no fundo do oceano, até chegar nos caminhos turísticos modernos. O capítulo que mais nos interessa é o dedicado às trilhas indígenas que deram origem a muitas das estradas modernas da América do Norte. Os paralelos com Brasil e a América Latina, no caso do Peabiru, são óbvios. Algumas são questões de ordem logística, como as trilhas Cherokee que seguiam rigorosamente as cristas dos morros, assim como as dos Guarani e Tupi, outras de ordem histórica colonial: assim como no Brasil, nos EUA os conquistadores fabricaram o mito dos “desbravadores” (nossos nossos Bandeirantes, os peregrinos/cowboys deles). Na realidade, em ambos os casos os brancos aprenderam a se locomover na América usando uma rede de caminhos já existente, extremamente desenvolvida e eficiente. Mas porque essas trilhas foram esquecidas, assim aqui como lá? Menos que uma conspiração organizada para apagar a importância desses caminhos, havia uma incompreensão absoluta dos colonizadores ao patrimônio cultural imaterial dos nativos. Como o próprio Moor define no livro: “Aprendi que alma de uma trilha não é limitada ao solo e às rochas; ela é evanescente, flúida como o ar.” Como Sérgio Buarque de Holanda suspeitava sobre o Peabiru, não eram estrada físicas mas um conjunto de instruções de navegação do território. Eram criações comunitárias que emergiam na tentativa e erro, passadas no boca a boca por gerações, sem autor original ou arquiteto. Como Moor diz: “Trilhas não são únicas nesse aspecto, esse processo evolucionário também acontece no “folclóre”, canções de trabalho, piadas e memes.” A mentalidade européia, acostumada ao mito do gênio individual, da palavra escrita e da estrada pavimentada, simplesmente não conseguia enxergar um processo invisível tão complexo.

Seria o “R caipira” um som Guarani espalhado pelo Peabiru?
Seria o “R caipira” um som Guarani espalhado pelo Peabiru?
O colega @raudagracojc me mandou um video um pouco inusitado em que uma enérgica Paula Lavigne aos berros de “VAMO MALHÁ???” tenta arrancar um idoso Caetano Veloso do sedentarismo quarentênico. O senhor de pijamas a ignora, preferindo ficar odara e dividir suas recentes descobertas literárias: conta que leu um livro chamado “Língua portuguêsa e realidade brasileira” de Celso Cunha. O texto de 1969 prevê erroneamente que o “R” retroflexo (O “R” de caipira falando porrrta) iria desaparecer em breve, provavelmente por ser considerado inculto. Estava errado. Em parte impulsionado pela periferia de São Paulo, uma região limítrofe com o interiorrr e através principalmente do hip-hop, essa pronúncia ganhou uma predominância recente, imprevista aos intelectuais de 50 anos atrás. Caetano nota que ao conversar com Paraguaios do “povão” que trabalhavam na equipe de seus shows em Asunción, percebeu que falavam espanhol com o mesmo “R” enrolado dos caipiras. De fato, dê um google em aulas básicas de Guarani paraguaio e você logo vai ouvir “Guarrrani”. Uma matéria de Carlos Fioravanti de 2015 confirma parte da história: “O R caipira era uma das características da língua falada na vila de São Paulo, que aos poucos, com a crescente urbanização e a chegada de imigrantes europeus, foi expulsa para a periferia ou para outras cidades”, diz José Simões da USP. “Era a língua dos bandeirantes.” Os especialistas acreditam que os primeiros moradores da vila de São Paulo, além de porrta, pulavam consoantes no meio das palavras, falando muié em vez de mulher, por exemplo. Para aprisionar índios e, mais tarde, para encontrar ouro, os bandeirantes conquistaram inicialmente o interior paulista, levando seu vocabulário e seu modo de falar.” Até 1757, quando o Marquês de Pombal expulsou o Jesuítas que catequizavam em língua indígena e estabeleceu o português como lingua oficial do Brasil, a maioria dos paulistas falava Tupi-Guarani. Além de São Paulo esse sotaque é notável em todas a regiões por onde o Peabiru passava, como Paraná e Santa Catarina. E nós sabemos que os bandeirantes usaram os caminhos indígenas para invadir o interior do continente.